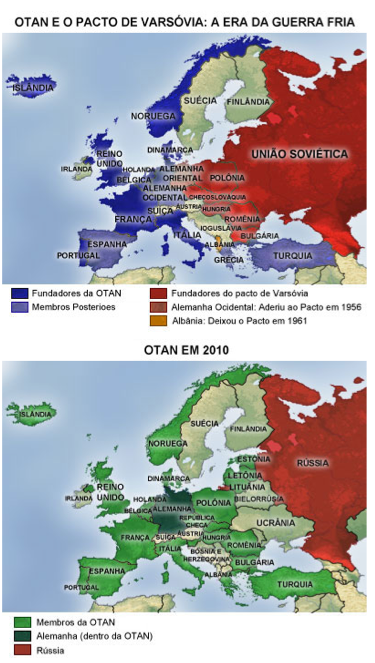Não há perigo maior para a economia mundial na atualidade do que a radicalização política nos Estados Unidos. A recente disputa entre a Casa Branca e a oposição Republicana, que controla a Câmara dos Deputados, sobre a elevação do teto da dívida do país, evidenciou o imenso fosso que separa os dois principais partidos políticos americanos. Os lados não são mais capazes de concordar nem sobre o básico, nem sobre o mais essencial para o bom funcionamento do país.
O resultado é que a confiança na economia americana ficou profundamente abalada. Analisando friamente os números, não há nenhum motivo para os investidores temerem pela incapacidade dos Estados Unidos de honrarem com seus compromissos no curto e no médio prazo, apesar do crescente e famigerado déficit. No entanto, para o futuro, há preocupações evidentes. O envelhecimento da população, os crescentes custos de segurança social e outros problemas estruturais podem vir a ser uma carga que nem a potente economia dos Estados Unidos seja capaz de suportar.
É possível que reformas bem realizadas corrijam os caminhos para uma trilha saudável. Mas sem um entendimento sobre o que mudar, não há como implementá-las. As transformações necessárias para evitar o risco de um colapso da economia americana no longo prazo só podem ser realizadas se Democratas e Republicanos chegarem a um mínimo de entendimento para fazer a máquina andar.

O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em primeiro plano, e Deputado Eric Cantor, Líder da Maioria Republicana na House of Representatives.
A mesma lógica acontece com a atual e profunda crise econômica por que passam os Estados Unidos. Os remédios oferecidos pelos liberais, que se identificam com o Presidente Barak Obama, são contrários às soluções propostas pelos conservadores, da oposição. Do lado da esquerda, defende-se que não há investimentos porque a falta de trabalho e o estouro da bolha das hipotecas fizeram sumir a demanda. A resposta, então, seria colocar as pessoas para trabalhar, aumentando os gastos do governo, aproveitando para reconstruir a decadente infra-estrutura do país e investindo pesado em programas de educação para gerar mão de obra qualificada. À direita, a ideia é agir com planos de austeridade para reduzir a dívida do país (que hoje é recorde histórico), além de encolher ainda mais o Estado, reduzindo impostos, cortando gastos e diminuindo regulações para que o mercado se sinta livre para investir e gerar os empregos de que o país precisa.
Até aí, nada de novo. De modo geral e com pequenas mudanças, é este o discurso de Democratas e Republicanos há algumas décadas. O que mudou é que os lados estão pouco dispostos a ceder em suas posições. E isto preocupante, especialmente no caso do sistema político americano. Lá, as forças foram distribuídas pelos pais fundadores da nação, os reverenciados founding father, de modo a haver instituições com poderes que se sobrepõem. O objetivo desse desenho (que é bastante diferente de outro modelo, o Parlamentarismo, que é usado em importantes democracias, principalmente na Europa e no Japão) é forçar que haja acordo, evitando que se concentre muito poder em poucas mãos, alcançando o equilíbrio por meio de constante vigilância entre os lados.
O problema é que, quando as partes não conseguem levantar da mesa com um mínimo de entendimento, o sistema deixa de funcionar com eficiência. É o que acontece neste momento. De certa forma, é natural que em momentos de crise haja uma procura maior por respostas simples. E discursos radicais nada mais são do que uma grande simplificação da realidade.
Como acontece sempre que duas ideias se opõem de forma extrema, a melhor alternativa repousa serenamente em algum lugar entre elas. No caso da crise americana, aumentar os gastos do governo para recuperar o nível de emprego e, por consequência, fazer crescer a demanda e o investimento parece fazer bastante sentido. Também são coerentes os argumentos dos Democratas de que é preciso investir em educação, inovação e infra-estrutura para competir com concorrentes que os americanos não tinham no passado, como chineses e indianos. Por outro lado, os problemas a pressionar o futuro requerem uma certa dose da austeridade fiscal defendida pelos Republicanos. Nesse mesmo campo, não há como negar que regulações e impostos, ainda que necessários para evitar novas crises como a que vivemos, sejam um obstáculo para a competitividade da economia.
Há razões para acreditar que os Estados Unidos irão superar seus entraves políticos. Apesar das demonstrações de fraca liderança do Presidente Obama e da criatividade dos conservadores radicais do movimento Tea Party para distorcer a realidade, a democracia americana se mantém robusta e sólida há mais de dois séculos e sobreviveu a situações bem complexas, como a segregação racial que existia em vários Estados do país até a década de 60 do século passado. E não se pode esquecer que a radicalização do debate traz sempre a oportunidade de mais debate, de mais ideias. Ainda que haja muito ruído e retórica, as discussões entre liberais e conservadores é o que, no final das contas, levará ao equilíbrio. Tomara que a campanha presidencial do ano que vem, na qual tanto o Presidente quanto a oposição já estão bastante engajados, traga mais do que acusações levianas e propostas populistas. Para o bem da economia de todo o mundo, é fundamental que os políticos americanos reencontrem o caminho do entendimento e que a poderosa capacidade intelectual dos Estados Unidos encontre um caminho estável e próspero para o país.