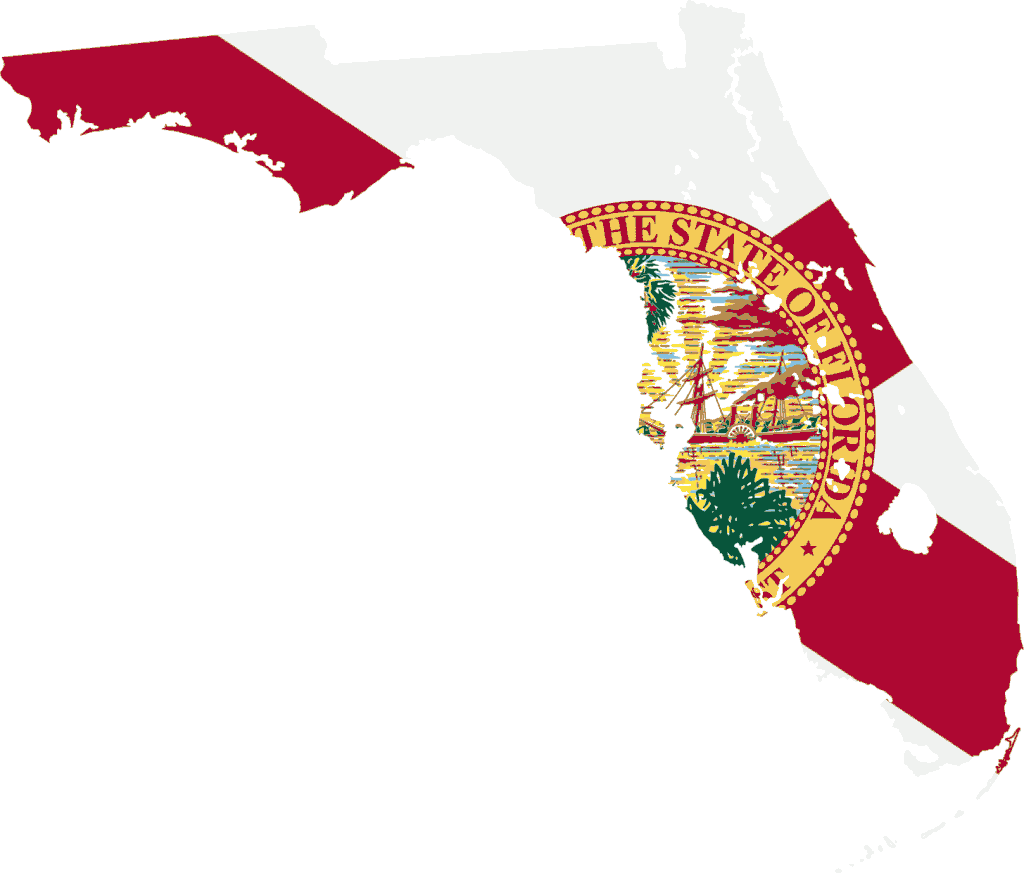O ano começou (acabou o carnaval), mas os problemas do nosso país são antigos. O Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, assumiu o cargo clamando, em seu discurso de posse, que iria acabar com o patrimonialismo. O termo patrimonialismo é mais comum no vocabulário de sociólogos e cientistas políticos ao invés de economistas. Dentre os sociólogos, Max Weber usou a palavra “patrimonial” para descrever governos que servem ou favorecem os interesses de uma rede de amigos, familiares, apadrinhados e afiliados políticos que demonstram lealdade aos donos do poder. O inverso – o estado não patrimonialista – defende os interesses da sociedade como um todo de forma impessoal; as instituições e cargos públicos existem para servir a nação e não podem ser usados para ganhos privados.
O patrimonialismo não é um problema exclusivo do Brasil e muito menos um desafio contemporâneo. O termo clássico foi inclusive substituído pela sua versão moderna. Nem mesmo os ditadores mais corruptos acreditam – como reis e sultões acreditavam – que são literalmente donos do estado, e podem fazer tudo o que desejam. Por isso, o patrimonialismo evoluiu para neopatrimonialismo, um estado com uma aparência estrutural externa convencional – com instituições, sistema legal, eleições e outros – mas internamente governado por interesses privados. Alguns teóricos classificam essa nova forma de patrimonialismo de “ordem de acesso limitado”, modelo no qual uma elite política usa o seu poder para impedir a competição na economia e no sistema político. Outros chamam esse fenômeno de ordem “extrativista”. Em um momento da história humana, todos os governos podiam ser classificados de patrimonialistas, de acesso limitado ou extrativistas.
Estado Moderno
A pergunta óbvia é como essas estruturas patrimonialistas evoluíram para o estado moderno. Nenhuma sociedade é capaz de evoluir sem uma ordem política. Essa ordem é um produto da consolidação de três categorias básicas de instituições: o estado, estado de direito, e mecanismos de fiscalização. O estado é a organização centralizadora que estabelece a ordem e segurança física através monopólio do uso legitimo da força, em um determinado território. O estado de direito estabelece uma sociedade governada por um código de leis e regras estabelecidas. Essas leis são vinculantes até para os mais poderosos, sejam eles presidentes, reis, ou primeiro ministros. Se as leis forem alteradas para satisfazer os interesses dos “donos do poder” não temos um estado de direito. A peça central da funcionalidade do estado de direito é existência de um poder judiciário autônomo ao poder executivo. O terceiro pilar é a accountability, a responsabilidade do governo em proteger os interesses da sociedade – Aristóteles chamava isso de “bem comum” – ao invés dos interesses pessoais de poucos. Nas democracias modernas, accountability existe no processo democrático eleitoral. Eleições periódicas são conduzidas de forma livre e justa para escolher representantes em um sistema multipartidário.
O desafio de qualquer sociedade é criar um estado forte com capacidade de entregar bens públicos, como segurança, e aplicar as leis. Mas ao mesmo tempo, um estado com poder limitado que só será usado de forma controlada e consensual. Portanto, por um lado o estado deve ser forte e capaz, mas limitado para agir dentro de parâmetros estabelecidos pela lei.
A China tem um estado forte e bem desenvolvido, mas sem estado de direito e accountability. Estados falidos, como Somália ou Haiti, não possuem nenhuma das três estruturas políticas. Em contraste, uma democracia liberal desenvolvida, como Dinamarca ou Suíça, possuiu as três. Para citar uma das principais características do neopatrimonialismo africano, por exemplo, é preciso entender a “lei do personalismo”. A política sempre foi centrada ao redor da figura do Presidente ou Big Man (conceito político que explica a concentração de poder nas mão de um único indivíduo). Praticamente todos os sistemas políticos da Africa, no período pós-colonial, eram presidencialistas ao invés de parlamentaristas. Os líderes africanos se apresentavam como uma mistura de pai e chefe da máfia. Por exemplo, Julius Nyerere, da Tanzânia, exigia ser chamado de “Professor”, e Mobutu, do Zaire, usava um chapéu de leopardo, óculos escuros e carregava um bastão cerimonial. Até pouco tempo atrás, poucos presidentes africanos entregaram o poder pacificamente para seu sucessor, como George Washington fez após servir por dois mandatos.
Fatores Modernizantes
Ao longo da história alguns fatores contribuíram para a modernização dos estados. Um deles foi a competição militar; a presença de inimigos e ameaças demandou a criação de um estado eficiente. Por exemplo, a posição geopolítica desfavorável exigiu tanto da China antiga como da Prussia (precursora da Alemanha unificada) que compensassem essa deficiência militar através da criação de uma administração pública eficiente. Outro fator foi a mobilização e inserção social gerada pela industrialização. O crescimento econômico emancipou novos grupos que passaram a participar do sistema político. Essa foi parte da explicação da modernização do estado americano. Na época o clientelismo imperava. Foi necessário uma coalização de novos atores sociais – composta por empresários prejudicados pela má administração pública; fazendeiros do oeste se opondo aos interesses corruptos dos ferroviários; e uma nova classe média profissional e urbana – para transformar a governança do país.
O problema do Brasil e da grande maioria dos países em desenvolvimento é virar uma “Dinamarca”. Em outras palavras, ser capaz de se desenvolver politicamente. O entendimento comum da política enxerga apenas ideologias, partidos políticos ou políticas publicas. Presidentes vem e vão, leis podem ser alteradas, legisladores mudam, mas as regras fundamentais que organizam o estado e definem a ordem política devem ser sólidas.